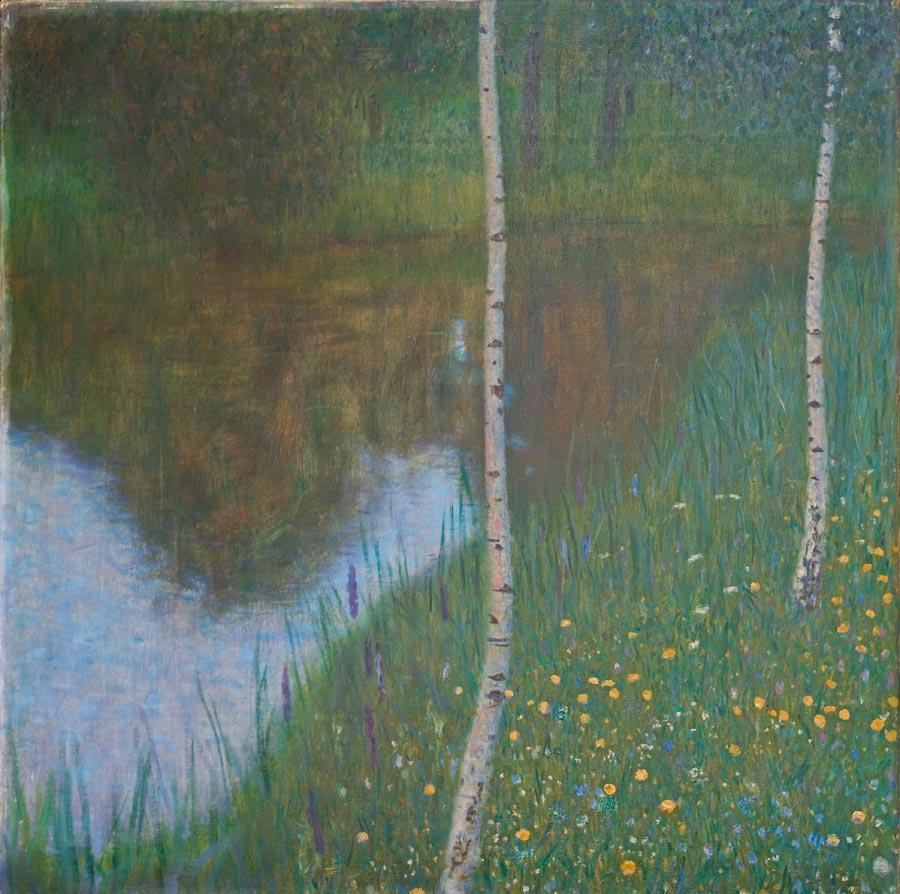Esta semana, se estivesse vivo, o cantor completaria 65º aniversário no mesmo ano que marca também os 20 anos de sua morte e os 40 anos da formação de sua banda
9 de setembro de 2011
À frente do Queen, Freddie Mercury é lembrado como uma das vozes mais dotadas do rock’n’roll e também uma das mais conhecidas mundialmente. Não apenas ele era um cantor excepcional e também um dos maiores performers do classic rock, como sua banda contava com um conjunto de excelentes instrumentistas, compositores e arranjadores.
O Queen nasceu em uma etapa de explosão do rock’n’roll como um dos grandes fenômenos da música popular em todo o mundo, quando os shows das grandes bandas deixavam de acontecer em pequenas casas especializadas e ganhavam os grandes estádios esportivos, arrastando dezenas de milhares de pessoas aos shows. O grupo cresceu e se tornou notório principalmente como uma banda de palco, de apresentações ao vivo, em shows espetaculares, teatrais, com fogos, luzes, em produções grandiosas e milionárias. Parte importante dos efeitos destas apresentações era mérito de Freddie Mercury, um artista com grande força e carisma no palco.
O Queen não se restringia também a uma banda performática. Foram deles alguns dos maiores clássicos do rock destas duas décadas. Músicas como Bohemian Rapsody, Under pressure, We will rock you, The show must go on, A kind of magic, Killer queen, I want to break free e Who wants to live forever, entre tantas outras, estão entre as músicas mais tocadas nas radios ainda hoje.
Mas nem tudo é elogiável na carreira de Mercury e seu grupo. Como muitas das bandas do rock inglês, o Queen era entusiasta do governo imperialista britânico, uma banda nacionalista e defensora, em alguns casos, de valores de direita em suas músicas. O nome do grupo é de fato uma referência à rainha no que havia, segundo eles, de “glamuroso” nesta referência. O grupo chegou até mesmo a montar um arranjo próprio para o tema: “God save our gracious queen!/ Long live our noble queen!/ God save the queen!...” (“Deus salve nossa graciosa rainha/ Longa vida à nossa nobre rainha/ Deus salve a rainha!”); que era frequentemente tocada nos shows ao vivo. Ou seja, uma “sátira” que era praticamente uma celebração do poder real britânico.
Eram muito comuns as apresentações em que Mercury aparecia enrolado na bandeira britânica ou entrava no palco trajando um manto e uma coroa real, outra declaração de apoio, à sua maneira, à monarquia como um valor positivo. Eram atitudes que, na melhor das hipóteses, revelavam apenas uma posição despolizada do grupo, como nas ocasiões em que Mercury entrou no palco fazendo a saudação nazista com o braço. Muitos julgavam tais gestos, atos provocadores, irreverentes.
Músicas como um de seus maiores sucessos, We are the Champions, é um agradecimento do grupo à sua “fama”, e mistura uma exaltação do sucesso comercial com a mais atroz ilusão no “status” e no “prestígio” do artista promovidos pela burguesia. Sem falar na colocação tipicamente direitista contida nos versos “No time for losers/ 'Cause we are the champions of the world” (“Não há tempo para perdedores/ Porque nós somos os campeões do mundo”).
O Queen foi uma banda de um período de crise política e social. Muitas de suas letras retratam esta crise, ainda que de uma maneira não muito clara, que era uma das características de suas composições. Músicas como Hammer to Fall, Great King Rat ou Under pressure – gravada em parceria com David Bowie –, descrevem a desilusão geral, o pessimismo e o medo de uma pequena-burguesia pressionada por aqueles anos de grande instabilidade. O grupo nunca foi uma banda de crítica social e nem passava perto disso. Suas raras letras críticas são incrivelmente fracas, moralistas, místicas.
Um dos poucos fatos políticos que o Queen se propôs a condenar em suas composições foi a guerra. Nestas músicas vinha à tona também uma fortíssima mentalidade religiosa que tornavam banais tais canções, como pode ser visto em Warboys (A Prayer For Peace) ou The Miracle, que mal poderiam ser chamadas de críticas. Eram apelos pacifistas desprovidos de conteúdo político real, quase uma lamentação, uma prece pela paz mundial. Mais bem sucedida, e que constitui quase uma exceção em sua obra é a menos conhecida canção White Man, de 1976, onde o grupo lança uma crítica direta ao colonialismo europeu.
Grupo de altíssima qualidade musical no que diz respeito às suas técnicas e vinculado ao virtuoso rock progressivo em seus primeiros anos, seu sucesso foi conveniente para o governo britânico em uma época de protestos e contestação do regime político. Um grupo de talentosos artistas sem qualquer visão crítica da política, ou que pelo menos evitavam ao máximo expressá-la em seus trabalhos.
A banda nasceu em 1968, no momento de maior crise política do imperialismo em todas as partes do mundo. Ao longo de sua carreira de duas décadas até a morte de Freddie Mercury, ela foi uma das bandas a cumprir o papel nada louvável de desassociar o rock de suas posições políticas e críticas, em direção àquele rock “puro”, espetacular, de entretenimento, que primava pelo virtuosismo técnico de seus integrantes e por um radicalismo superficial ou aparente.
Com o passar das décadas, e após a morte de Mercury, as tendências francamente reacionárias do grupo emergiram claramente à superfície com institucionalização da banda pela monarquia. Em 2002, Brian May, o guitarrista e fundador original da banda, tocou seu arranjo pessoal para o tema God Save the Queen no topo do Palácio de Buckingham durante as celebrações do Jubileu de Ouro de Elizabeth II. Pelo feito, angariou um título honorífico em 2005, nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico.
Breve perfil de Freddie Mercury
Freddie Mercury era o nome artístico de Farrokh Bulsara, filho de um casal de indianos, que nasceu em 1946 na ilha de Unguja, parte do Arquipélago de Zanzibar, hoje pertencente à Tanzânia, mas então, uma colônia britânica. Ele cresceu na Índia e realizou seus estudos próximo a Bombaim. Foi ali que teve suas primeiras aulas de canto e piano. Mais velho, mudou-se com os pais novamente para sua terra natal.
Em 1963 acontece a revolução independentista em Zanzibar, que no ano seguinte transforma-se em uma grande guerra civil pela deposição do sultão e seu governo. O movimento levaria à formação da Tanzânia após as ilhas unificarem-se com o território continental da Tanganica.
Em meio à guerra civil, a família fugiu para a Inglaterra. Mercury tinha 18 anos na ocasião. Ele matriculou-se pouco depois na Ealing Art College, onde destacou-se como aluno modelo do curso de Design Gráfico e Artístico.
Foi como estudante do aristocrático Imperial College que ele conheceu Tim Staffell, membro da banda Smile, onde ele tocava como baixista; Brian May como guitarrista e Tim Staffell na bateria. Eram todos eles membros de famílias britânicas abastadas, instrumentistas com sólida formação musical e técnica.
Em 1970, Staffell abandona o grupo e Mercury é convidado a entrar como vocalista. John Deacon assume o baixo a partir daí e o grupo passa a se chamar Queen – depois de Mercury recusar a sugestão de Roger Taylor de chamar a banda de Rich Kids (Crianças Ricas). A escolha do nome é relevante e merece um parêntese.
Em seus primórdios e ao longo da maior parte da década de 1970, o Queen tinha muitas influências do glam rock. As bandas deste movimento, que teve manifestações na Inglaterra e Estados Unidos, assumia um visual agressivo para a moralidade da época. Seus integrantes vestiam-se como mulheres, usando colares, brincos, salto, maquiagem, glitter e unhas cumpridas. Era característico entre os roqueiros do glam a adoção de nomes femininos na banda, como ocorre, por exemplo com o norte-americano New York Dolls. No caso do Queen, o nome tinha uma dupla conotação, ao termo “drag queen”, e à própria rainha britânica. Segundo afirmaria Mercury, que escolheu o nome, lhe agravada a multiplicidade de imagens e significados que ele suscitava. Sua conotação de poder, força, glamour e pompa, e, ao mesmo tempo, em sua faceta homossexual, o que havia ali de escandaloso, agressivo e chocante.
Este conceito é importante para se compreender a identidade da banda em seus primeiros anos, interessada em chocar com seu visual ostensivamente gay combinado à um rock progressivo altamente sofisticado. Esta identidade aparece principalmente nos dois primeiros álbuns do grupo, Queen e Queen II, com longas músicas instrumentais recheadas de solos virtuosos.
O grupo conquista relativo sucesso desde o disco de estreia, mas ganha notoriedade nacional a partir de seu terceiro disco, Sheer Heart Attack, de 1974, que entrou naquele ano para a lista dos 10 álbuns mais vendidos na Inglaterra. Esta sucesso subido marcaria a gradual mudança de estilo do Queen, que da pretensão de horrorizar o conservadorismo da sociedade britânica, envereda por um caminho comercial mais palatável.
Êxito estrondoso conquistou a banda com sua obra-prima A Night at the Opera, de 1975, onde aparecia já a extraordinária e inclassificável Bohemian Rhapsody, que tinha ainda muito desta vertente experimental do grupo, que lhe valeu sua originalidade. Eles criaram uma espécie de “ópera-rock”.
Disco após disco o grupo reproduziria este sucesso até tornar-se uma das maiores e mais populares bandas do mundo em um momento importantíssimo de afirmação do rock’n’roll como fenômeno mundial.
Na década de 1980, Mercury adota o visual com que é normalmente lembrado, de cabelo curto e bigode. As composições do grupo sempre manteriam certo experimentalismo, incorporando também diferentes tendências do rock da época e produzindo música comercial de alta qualidade.
Mercury descobriu estar com AIDS no final da década de 1980, vindo a reconhecer o fato publicamente um dia antes de sua morte em 24 de novembro de 1991.
Uma das últimas composições de Mercury, escrita em parceria com Brian May, é também uma das músicas mais poderosas e emocionalmente carregadas do grupo, The show must go on, em que ele cantava sua despedida da vida. O single foi gravado em finais de 1990 e lançado em outubro de 1991, apenas seis semanas antes da morte do cantor. The show must go on permaneceu as 75 semanas seguintes no topo das paradas britânicas.
Em 1992, no primeiro aniversário da morte de Mercury, os demais membros da banda organizam um grande show em sua homenagem, o The Freddie Mercury Tribute Concert, que contou com a presença de alguns dos principais grupos e cantores do período, entre eles, Elton John, David Bowie, Annie Lennox, Robert Plant, Seal, Tony Iommi, Liza Minnelli, George Michael, Metallica, Guns N' Roses e Def Leppard.